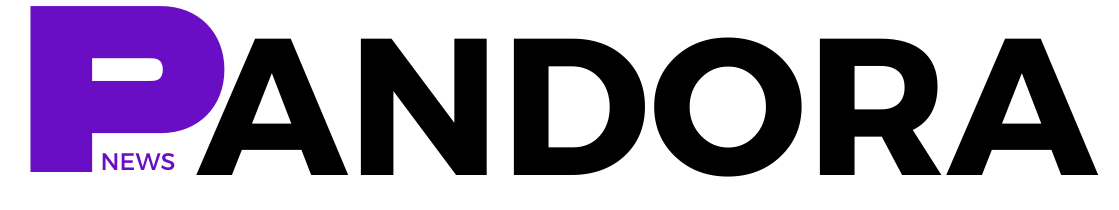Ricardo Viveiros*
O crescimento dos feminicídios no Brasil em 2025, com quatro mulheres assassinadas por dia (MJSP), não pode ser compreendido apenas como resultado de conflitos individuais, falhas de segurança pública ou desvios de caráter. É um fenômeno estrutural, enraizado em uma cultura histórica de rancor, controle e subalternização das mulheres, que atravessa séculos e se atualiza por meio de discursos ideológicos, religiosos e políticos. A violência letal contra mulheres é o estágio extremo de uma pedagogia social que ensina, naturaliza e legitima o domínio masculino. Triste herança do passado que perdura no presente.
Desde a formação das sociedades patriarcais, o feminino foi sendo deslocado do lugar de potência para o de ameaça. O Malleus Maleficarum (Martelo das Feiticeiras), cartilha inquisitorial publicada no século XV, é um dos exemplos mais brutais dessa construção simbólico-discursiva. Ao associar a mulher ao pecado, à sexualidade descontrolada e ao demônio, o texto consolidou uma narrativa que permitiu a perseguição, a tortura e a morte de milhares de mulheres. A caça às bruxas não foi um delírio coletivo, mas um projeto político de disciplinamento dos corpos femininos, injusto argumento na consolidação do Estado moderno, do capitalismo nascente e do controle social.
Essa misoginia institucionalizada não desapareceu com o fim das fogueiras. Ela se transformou. A narrativa que antes demonizava o corpo feminino hoje se apresenta em roupagens modernas: moralismos seletivos, discursos de ódio nas redes sociais, negacionismo da violência de gênero e ideologias que reforçam papéis tradicionais como se fossem naturais ou divinos. A lógica, no entanto, segue a mesma: controlar a autonomia das mulheres, sua sexualidade, sua presença no espaço público e sua capacidade de decisão. Enfim, o crescente empoderamento feminino é punido com agressões e mortes pelos radicais, pelos fascistas, pelos covardes.
A análise histórica revela que nem sempre foi assim. Em sociedades matrísticas, como definiram Humberto Maturana e Gerda Verden-Zöller, as mulheres ocupavam posição central, associadas à fertilidade, ao saber e à organização da vida comunitária. Eram respeitadas e cultuadas por sua importância, registra a vida de grupos sociais em várias partes do mundo. A supremacia masculina emerge quando a força física, a guerra e a propriedade passam a estruturar as relações sociais. A partir daí, o poder cultural masculino se impõe sobre o poder biológico feminino, transformando a mulher em propriedade e sua sexualidade em objeto de desconfiança e punição.
O patriarcado, ao longo dos séculos, construiu uma linguagem que inferioriza o feminino e o associa à culpa, ao descontrole e à ameaça. Essa linguagem não apenas molda imaginários, mas orienta práticas. Quando a mulher é morta por ser mulher, o agressor age amparado por uma cultura que o ensinou a ver, desde bem jovem, o corpo feminino como posse e a violência como correção. O feminicídio, nesse sentido, é um crime ideológico.
Na sociedade contemporânea, as mídias digitais amplificam esse processo. Tal como no conto O Patinho Feio (1843), de Hans Christian Andersen, a aparência, os estereótipos e os julgamentos sumários definem quem merece existir sem ser atacado. Mulheres que rompem padrões são canceladas, perseguidas e silenciadas. A desumanização simbólica antecede a violência física. É comum observar homens que, de modo dissimulado, ridicularizam e inferiorizam mulheres.
Compreender o feminicídio como herdeiro de um longo processo histórico é fundamental para enfrentá-lo. Não se trata apenas de punir crimes, mas de desmontar discursos, revisar narrativas e interromper a recorrência cotidiana do androcentrismo. Enquanto a cultura do ódio for legitimada por ideologias que exaltam a força, o controle e a submissão, as mulheres continuarão sob risco.
Romper esse ciclo exige mais do que leis: exige memória, consciência histórica e a coragem de confrontar as bases simbólicas do patriarcado. Educação. As fogueiras da Inquisição mudaram na forma, mas o fogo delas ainda queima. E só será extinto quando a sociedade deixar de naturalizar a violência contra as mulheres e passar a reconhecê-las como iguais – pessoas de direito, desejo e existência.
*Ricardo Viveiros, jornalista, professor e escritor, é doutor em Educação, Arte e História da Cultura (UPM); membro da Academia Paulista de Educação (APE) e conselheiro da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (ABERJE); autor, entre outros livros, de A vila que descobriu o Brasil, Justiça seja feita e Memórias de um tempo obscuro.